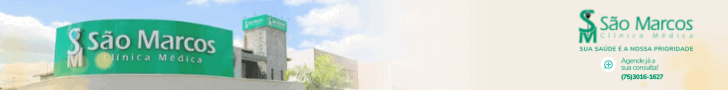Da extensa agenda bilateral entre Brasil e Estados Unidos, o único tema que aparentemente deslanchará depois do encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump será o acordo para que os americanos aluguem a base de Alcântara, no Maranhão, emperrado há décadas.
Há ainda uma tímida esperança de que Bolsonaro convença Trump a apoiar o pleito brasileiro a entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), desejo antigo do Brasil.
No governo americano, a maior resistência emana de Robert Lighthizer, o representante comercial, um conhecedor antigo das ambições e limites brasileiros. Ele já advogou para o Brasil em disputas comerciais, sempre foi defensor ferrenho do protecionismo ao aço americano e não se dispõe a concessões relevantes sem algo em troca.
Além desses dois itens, o Brasil não obteve a anuência para a liberação de vistos a turistas. A ideia de um acordo comercial bilateral é incipiente. Os americanos querem ainda apoio à derrubada do ditador venezuelano e à contenção do avanço chinês sobre a América Latina.
A agenda diplomática é basicamente essa, o resto é teatro. Jantares, encontros, selfies, declarações polêmicas sobre este ou aquele personagem, nada disso tem importância diante de um fator crítico: a química pessoal entre Trump e Bolsonaro. Ninguém sabe como será.
Química ajuda, mas sozinha não resolve. Qualquer conhecedor de história da diplomacia sabe disso De todas as duplas recentes cá e lá, a que apresentou melhor química foi a dobradinha Luiz Inácio Lula da Silva – George W. Bush. Persistiram as divergências ideológicas profundas.
O risco, quando entram em cena figuras carismáticas e polarizadoras como Trump e Bolsonaro, é outro: acreditar na química pessoal entre os dois como resposta eficaz a limitações de outra natureza.
Ninguém sabe direito qual é a política externa de Bolsonaro. Na prática, o chanceler Ernesto Araújo se limitou até agora a declarações de cunho ideológico e religioso. A exceção foi a Venezuela, onde ele manteve uma atuação decisiva na condução do Grupo de Lima em apoio ao presidente interino Juan Guaidó.
Embora urgente, a Venezuela não é uma questão que hoje divida Brasil e Estados Unidos. Pode haver no máximo uma divergência sobre métodos – nesse ponto, os militares são mais importantes e poderosos que o Itamaraty –, mas não sobre o objetivo: derrubar o ditador Nicolás Maduro, resgatar a democracia e deter o avanço bolivariano.
É nas questões em que a divergência é necessariamente mais profunda que se revelará a qualidade do novo Itamaraty sob Bolsonaro. Nenhuma dessas questões é tão relevante quanto o papel da China, hoje maior parceiro comercial do Brasil (os Estados Unidos são o terceiro).
Do ponto de vista do interesse nacional, não há motivo para o Brasil se sujeitar aos desígnios de Washington no que diz respeito a Pequim. Ao contrário, o recuo diplomático americano na Ásia sob Trump representa uma oportunidade ao avanço brasileiro, no primeiro momento econômica, no futuro talvez até de outra natureza.
Em nenhum momento o Brasil se preparou para ela. É diícil acreditar que alguma política externa consistente para a Ásia venha deste governo, imerso em fabulações conspiratórias sobre o “globalismo”, as ameaças à “cultura ocidental” e outros espantalhos.
Sem isso, o mais provável é que estejamos à mercê daquilo que os americanos tiverem formulado. Qualquer relação entre Estados Unidos e Brasil será necessariamente desigual. Mas não significa que deva ser subserviente. O importante é entender que ela não é nem deve se limitar à relação entre Trump e Bolsonaro, por mais que haja química. Líderes passam, países continuam. Informações do Blog do Hélio Gurovitz/G1 Foto: PR